
I. DA VÍTIMA E SEU SENHOR
Vítimas não falam. Não é que lhes falte a voz: sua fala não se efetiva senão numa débil demanda ao senhor. Demanda que é sempre de reconhecimento, que é sempre um frágil pedido de amor. Pois vítimas não amam. Falta-lhes a potência de fazerem-se amantes, falta-lhes o movimento, a expressividade que transmitiria ao outro um corpo que se vitaliza ao se presentar. Por não poderem dar materialidade à sua expressão, esperam do outro, suposto seu senhor, essa materialidade. É então desde o corpo do outro que buscam, passiva e demandantemente, sua via. Daí permanecerem em seu desejo de ser amadas, buscando figurar a si mesmas como objeto desse desejo que sempre lhes falta, que sempre lhes escapa.
Quando falam, sempre entre iguais, isto é, sempre entre outras vítimas, jamais perante o senhor, sua fala busca nomear isso que lhes falta, e as estratégias que permitiriam, finalmente, sua conquista de um contorno. Entre si, chegam a reconhecer-se fortes, uma força que inevitavelmente fracassa ao se encontrarem em uma nova presentação ao senhor, com seu suposto fortalecimento antecipado. O que parecia sólido se desfaz, por mais pensados tenham sido os gestos, por mais medidas as palavras. Tropeçam em si mesmas, fazem de si mesmas sua própria armadilha, a inevitável armadilha de todo aquele que, em sua impotência, só demanda.
Não potencializando seu desejo, a vítima é sempre capturada em uma sedução, da qual sua demanda é suporte. O que a faz capturável é uma esperança e uma promessa: a de transmissão, pelo outro, de uma potência, o que jamais se realiza, salvo como efêmero, salvo como ilusão, salvo como alegria fugaz. Trata-se, no entanto, menos de uma recusa ou de uma falha daquele que é demandado (embora isso possa também acontecer), e mais de uma impossibilidade da vítima. Referida ao senhor, e só a ele, a vítima compõe seus gestos e suas palavras a partir de um sistema de equivalências das quais só pode reconhecer efeitos, jamais causas. Obedece, mas não serve. E o que supõe ser ação é, em toda sua extensão, pura resposta previsível, pura reação. Por não possuir os códigos, os assimila, assim, por espelhamento, por estereotipia, sendo sempre em um exterior que irá buscar, nos códigos a que recorre, sua própria eficácia. A especularidade é sua sina. E ali onde ela pensa ter realizado uma conquista, o que encontra é sempre uma anterioridade, uma assimilação, a evidência de uma inocente artimanha destinada a fracassar. O senhor, suposto portador do código, só pode divertir-se e, pacientemente, demonstrar, com sua ação, a ineficácia da estratégia, que irá reverter a seu favor, devolvendo a vítima à sua própria condição. O fracasso da vítima é, assim, sempre a prevalência (mas também a exasperação) do senhor. É sempre ela que o confirma na posição da qual supunha poder deslocá-lo, e o exige enquanto tal.
O fracasso da vítima no confronto direto com o senhor produz para este seu regojizo; um às vezes desconfortável, amargo regojizo. Assim, mesmo quando não deseja ameaçar, o senhor simula sua presença como uma ameaça, exatamente o que a vítima deseja. É assim que o senhor dispensa seu amor: jogando o jogo da vítima e fazendo-a jogar o seu jogo. Uma crueldade, sem dúvida, às vezes uma amorosa crueldade, que a vítima, por não reconhecê-la, quase nunca a encontra como amorosa.
Nesse jogo o senhor só faz fortalecer-se, jogando sua vítima no remoinho das repetições que a cristalizam em sua posição e garantem-lhe sua discursividade reiterativa. É essa discursividade, que lhe escapa – ela jamais fala, é antes falada –, que a leva a supor-se conquistando um conhecimento que a retiraria para uma outra posição, a de senhor. Mas essa posição, efetivamente, ela não a deseja, por supor que perderia a única terra em que pode representar-se enquanto sendo. Ser vítima é seu destino.
Se não há saída para a vítima, senão sua própria reiteração enquanto vítima, até a morte, essa não-saída resulta, entretanto, de um duplo equívoco. Amarrada definitivamente à figura do senhor, todo seu projeto e seu movimento apontam para um porvir: um dever-ser, um vir-a-ser que só pode figurar-se como sua mais cara utopia: tornar-se, um dia, o senhor. É por projetar-se para um futuro impossível e irrealizável que ela se sujeita. Faz, enfim, a única coisa que aprendeu a ser, não se apreendendo em seus próprios devires. Alheia ao acontecimento, não reconhece em si os próprios gestos que espera o outro reconheça. Mais: não reconhece do outro os gestos, senão enquanto sujeitadores dos seus. Assim, aspira a uma soberania, sem fazer de si mesma um corpo-língua soberano. Aparentemente está voltada para o exterior, mas não o faz numa conexão com esse exterior, mas tão-somente enquanto certeza antecipada daquilo que lhe vem do exterior. É no medo, é no horror – e na atração – a isso que pode tomá-la, que ela se dá forma. Este é o gozo da vítima.
Na fragilidade de quem demanda, a vítima, portanto, continuamente supõe um senhor. Mas exatamente por não reconhecer senão suas formas de captura, o que se indiferencia para ela é o próprio senhor. No extremo, o senhor, para a vítima, é, enquanto possibilidade,
todo e qualquer outro.
E quem, afinal, é o senhor? Com certeza, não é um sujeito, um sujeito específico. Não se trata, para reconhecermos um senhor, de buscarmos aquele que detém o poder. O verdadeiro senhor, o senhor real e efetivo, seria aquele que recusa e ao mesmo tempo joga ludicamente com o poder, não o que se faz ávido ou escravo dele, pois o senhor escravo do próprio poder é, também, uma vítima.
O verdadeiro senhor, para ser senhor, deve ser livre. Se ele precisa do poder que lhe é externo, que lhe vem do reconhecimento que a vítima faz dele, precisará sempre da vítima para confirmar-se, e acaba se tornando escravo do que comanda. Um mundo sem vítimas seria sua derrocada.
II. DA VÍTIMA E SEU VAMPIRO
Por ter se tornado imprescindível à existência da vítima, a figura do senhor é uma construção da própria vítima. Talvez esteja fundada aí sua representação vampírica, como aquele que está para além da morte, que emerge da escuridão e carrega consigo o mal. Longe de ser o maior terror, é esse mal seu maior pólo de atração.
Destruidor, em primeiro lugar, possibilidade de ultrapassagem dos limites estreitos da vítima, em segundo, ele é figurado como a mais temida e a mais desejada de todas as forças. O vampiro é a maneira como a vítima representa sua possibilidade de liberação, sua possibilidade de consciência, sua paixão de tornar-se outro. Mas, como toda paixão, ela não lhe é consciente. Emerge de um fundo que a excede, daí a força da sedução que a captura.
Representação romântica do século XIX (resgatada de arquétipos anteriores, transculturais), quando o desejo foi poderosamente submergido sob a ordem disciplinar do universo da razão masculina, em particular o desejo do outro sexo – que é sempre a mulher – a figura do vampiro foi convocada a responder ao apelo da feminidade negada, tanto no homem como na mulher, como aquele que invade, que se apropria, que destrói ou que transforma sua vítima em seu semelhante, por assimilação da vítima a ele. Transgressor, fazedor da própria lei, o vampiro abre a possibilidade, no imaginário da vítima, de escapar à lei do desejo que a conforma. Tornar-se também fazedora da própria lei, eis o projeto da vítima, seu sonho, sua utopia. Sua perversão.
De uma demanda de amor à própria afirmação de si como amante, pode a vítima realizar esse passe?
Ora, se a vítima não ama, se não tem a potência de amar, poderia ela construir para si um senhor capaz de amá-la? Como poderia, o que não ama, conceber um amante para si? O que a vítima pode conceber, em sua posição de vítima, é aquele que irá se apropriar dela, de sua vida, seduzindo-a, não o que irá amá-la. E, por essa limitação, ali onde ela sonha sua liberdade, acaba por eleger, no outro, seu tirano. Protegendo-se de se reconhecer enquanto desejante, canta a glória de seu suposto libertador, delegando a ele seu sentido, sua ação, que só seriam efetivos se lhe fossem próprios. Eis o risco de todas as revoluções, individuais ou coletivas, postas no porvir e nas imagens ideais de poder e potência de um líder: a emergência de microfascismos. A cristalização da vítima, o aprisionamento do imaginário, não sua liberação.
O senhor sonhado pela vítima não é, assim, aquele que a afeta e a contamina com sua potência. Ele está, antes, contaminado dela, de sua demanda, de sua impossibilidade. Como pensá-lo, então, senão como tirano, senão como modelizado pelos referentes que a vítima retira do mundo com o ela o vê?
Por isso, um mundo aderido às figuras e estratos de poder a que os sujeitos devem aceder – e neles permanecer – para realizarem sua condição de potência é um mundo onde só há vítimas, pois aquele que ocupa o lugar do poder, o de senhor, está permanentemente ameaçado de ter revertida sua posição, perdendo sua potência de ação. Daí sua aderência ao que pode significá-lo. E a aderência da vítima ao que lhe permite reconhecê-lo. Essa é a ameaça totalitária dos desejos de ultrapassagem e de superação do si-mesmo que concebem um pólo de convergência/referência fora de si para sua realização.
Seria ingênuo, entretanto, conceber um mundo sem vítimas, logo, sem senhores? Ou um outro, em que todos seriam senhores? Uma comunidade, enfim, em que todos seriam livres? Um mundo de seres humanos, de homens integrais? Esse mundo, reiteram as razões e as evidências do mundo, é utópico. Mas é necessário afirmar, sempre e sempre, essa “utopia” como virtualidade, não do amanhã, mas do agora, pois é nela que afirmamos nossa potência e encontramos o motor de nossas ações. Paradoxal, talvez, desejante do impossível, por que não? A verdadeira democracia, um coletivo de múltiplos, afinal, é também uma virtualidade pela qual e para a qual somos convocados a trabalhar (e não a lutar por). Jamais um porvir (daí a inutilidade da luta), sempre um devir (daí o trabalho permanente por sua efetividade).
Um mundo de senhores, um mundo de iguais, cada um em sua diferença e com a própria potência como seu único poder, para ser concebido em sua virtualidade, exige um outro olhar, uma outra positividade, de forma que a apreensão das relações não seja dada só por oposição ou por complementaridade ou disjunção (senhor/escravo, ativo/passivo, masculino/feminino, forte/fraco, escuro/luminoso, bem/mal...), por composição unitária, mas principalmente por simetria, por mutação, por processualidade, por diversidade, por diferença, por multiplicidade, por conectividade. Uma revolução dos espíritos, cujo motor ético exige, por se significar pelo olhar, uma nova assunção estética. Um novo coletivo, o da multidão.
III. DA ARTE COMO DESTRUIÇÃO DA VÍTIMA
Dos modos expressivos do contemporâneo, a arte é a que melhor consegue transformar em positividade o discurso da vítima. Daí, talvez, o poder de atração que ela exerce para aqueles que, em sua precariedade perante os poderes, não encontram lugar para sua voz. A essa voz sem lugar, desterritorializada, a arte dá língua. Uma língua que, em relação aos poderes, está em posição continuada de extraterritorialidade. O poder, enquanto garantidor não de uma diferença, mas de uma desigualdade, é sempre conservador de si mesmo, jamais criador de um campo novo. Contrariamente ao que poderíamos supor, o poder não cria língua. Toma para si uma língua já dada, fazendo dela seu universal, pois, por sua condição de instituído, ele jamais poderá ser instituinte sem o risco de dissolver-se enquanto poder. Assim, onde algo pode ser reconhecido como instituído, manifesta-se o poder em seu caráter conservador. Daí o fracasso das ideologias em seus esforços de criar mundo, fazendo fracassar junto as utopias nelas e por elas sustentadas.
A arte, ao criar formas de presentação e expressão do mundo, abre, com sua permanente reinvenção estética, as possibilidades de o imaginário exercer-se, significar-se, reconhecer-se, criar mundo. Daí que, consistentemente, ela invista a destruição da vítima no homem-artista (que não é só o criador, mas também o que se coloca perante a obra em afetação com seus fluxos, suas linhas, seus campos abertos à imaginação criadora, ao próprio devir de uma subjetividade-artista). Como nos indica Deleuze, uma continuada guerra de guerrilha, não contra os poderes que nos são externos (contra eles o artista é impotente no confronto, embora possa ser lúdico nas negociações), mas contra os poderes em si mesmo.
POST-SCRIPTUM
Sade, o antropófago, o coprófago, o grande excretor, o insurreto, talvez tenha sido, no século XVIII francês, o que mais radicalmente abraçou o ideal da democracia como uma revolução dos espíritos. A insurreição permanente proposta por ele, que o diferencia de todos os seus contemporâneos, se efetiva, em seus textos, como uma radical revolução estética: fazer as palavras dizerem o insuportável de ser dito, levá-las além do limite da representação (fazer delas puras agenciadoras dos corpos e suas intensidades), torná-las absolutas em sua imanência, como pura presentação. Daí ser ele, como bem o indica Barthes, em primeiro lugar, um criador de língua. Explodir e implodir a língua, articulá-la ali onde ela resiste a qualquer articulação, levá-la à sua expressividade heterogênica, encaminhá-la em seu processo mais profundamente destrutivo-criador, cometer com ela violentações e assassinatos impossíveis. Levar, enfim, à destruição do estado de vítima, pela língua. Os sobreviventes de Silling, não serão eles o novo homem possível de emergir dessa destruição?Buñuel, o mais sadeano dos surrealistas, no final de L’age d’or,acreditou que sim.
















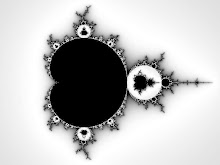





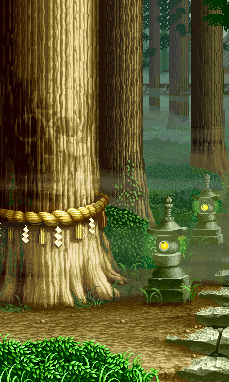.gif)

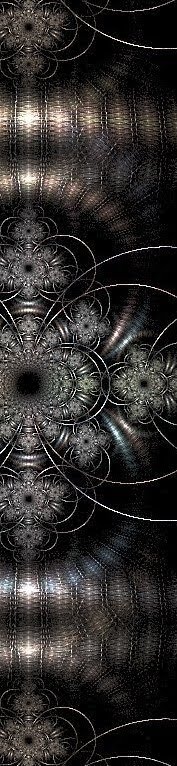.jpg)


















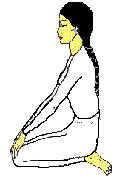

















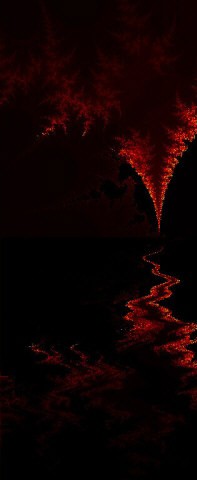









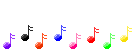











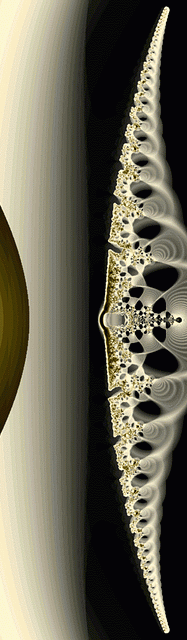












2 comentários:
Brilhante!!
"...fazer as palavras dizerem o insuportável de ser dito"
Tá ae,meu Lema de vida.
Texto GENIAL sobre o vitimismo,msm pq,a pessoa que apresenta esse comportamento,parece que gosta...
Um ENORME sorriso pra ti =)
Sem vítimas rsrsrs!!!
Postar um comentário