
(Imagem: fractal de LizWymark, Desire)
O mal-estar na diferença*
Suely Rolnik**
Suely Rolnik**
« A história, segundo Foucault, nos cerca e nos delimita; não diz o que somos, mas aquilo de que estamos em vias de diferir; não estabelece nossa identidade, mas a dissipa em proveito do outro que somos. Em suma, a história é o que nos separa de nós mesmos, o que se opõe ao tempo assim como à eternidade, aquilo que Nietzsche chamava de o inatual ou o intempestivo, o que é in actu.» 1
A vocação do dispositivo analítico2 é criar condições de escuta das diferenças que se agitam na constituição de nossa subjetividade. Elas se fazem presentes através de um mal-estar.
As diferenças às quais me refiro não tem um sentido identitário, estabelecido a partir da perspectiva da representação - as supostas características específicas de cada indivíduo ou grupo, que os distinguiriam de todos os outros. Ao contrário, refiro-me às diferenças no sentido daquilo que justamente vem abalar as identidades, estas calcificações de figuras, opondo-se à eternidade. O inatual, o intempestivo. Diferenças que fazem diferença.
O que provoca este abalo? Somos povoados por uma infinidade variável de ambientes, atravessados por forças/fluxos de todo tipo. Estes vão fazendo certas composições, enquanto outras se desfazem, numa incansável produção de diferenças. Quando a aglutinação destas novas composições atinje um certo limiar, eclode um acontecimento: imantação de uma multiplicidade de diferenças, necessariamente singular, que anuncia uma transformação irreversível de nosso modo de subjetivação. Isto nos coloca em estados de sensação desconhecidos que não conseguem expressar-se nas atuais figuras de nossa subjetividade, as quais perdem seu valor, tornando-se inteiramente obsoletas.
A irrupção de um acontecimento nos convoca a criar figuras que venham dar corpo e sentido para a arregimentação de diferenças que ele promove. Faz tremer nossos contornos e nos separa de nós mesmos, em proveito do outro que
2
estamos em vias de nos tornar. Perdem sentido nossas cartografias, depaupera-se nossa consistência, nos fragilizamos - tudo isso ao mesmo tempo.
São quebras, rupturas, demolições, que podem variar em ritmo e intensidade, mas que acontecem forçosa e repetidamente ao longo de nossa existência. Impossível evitá-lo: tais quebras são o efeito de uma implacável disparidade entre, de um lado, a infinitude do ser enquanto pura produção de diferença e, de outro, a finitude dos modos de subjetivação em que se expressam as diferenças, cristalizações provisórias do ser formando figuras, o humano propriamente dito. Tal disparidade é constitutiva da subjetividade: ela define o caráter trágico de nossa condição, a palpitação do transhumano no homem. Não há como se desfazer desta disparidade, muda apenas o modo como se lida com o trágico e as cartografias que se delineam a partir daí.
As diferenças adensam-se como nuvens negras. Escurecem nosso mundo. É verdade que seu acúmulo progressivo anuncia o relâmpago do acontecimento - a passagem do transhumano (plano virtual, constituido pelos problemas gerados pelas diferenças em suas aglutinações) para o humano (plano atual, constituido pelos modos de existência criados como resolução para os problemas colocados no virtual). Mas o instante que antecede o relâmpago parece não ter fim: somos lançados numa espécie de vácuo.
O salto na turbulência do transhumano produz mal-estar. Para nos proteger, fazemos sintomas - formações existenciais3 de compromisso que funcionam como solução contemporizadora. De um lado, neutralizam as diferenças, poupando-nos de enfrentar suas exigências, o que atenua momentaneamente nosso desassossego e abre possibilidades de vida. De outro lado, porém, esquivar-se tem seu custo: um desvigor do processo de construção experimental da existência, através da qual atualizam-se as diferenças. A doença psíquica é exatamente este desvigor4 - força de resistência contra a finitude das figuras em que nos reconhecemos.
Se as diferenças não continuassem a nos desassossegar, poderíamos ficar assim ad infinitum. Mas elas insistem através do mal-estar e é isso o que eventualmente nos leva a procurar uma análise.
A análise tem a potencialidade de constituir-se como força de enfrentamento do problema que cada aglutinação de diferenças coloca, força de sustentação da emergência do novo, força subversiva. A eficácia do dispositivo analítico está em relançar o ser em sua processualidade, desfazer nódulos de figuras
3
identificatórias calcificadas, criar condições para a invenção de possibilidades de vida produzidas a partir de um processamento das diferenças e não de seu rechaço.
A vocação da análise, portanto, não é dizer o que somos, mas sim promover a escuta daquilo de que estamos em vias de diferir - ou seja, a sustentação de devires-outro. Tal vocação estêve presente na própria fundação da psicanálise, com a qual se inaugura o campo analítico. A criação por Freud deste novo tipo de prática, no final do século XIX, se constituiu como uma resposta possível ao mal-estar provocado pelo declínio do modo de subjetivação então dominante, o qual se expressa convulsivamente no conjunto de sintomas que se convencionou chamar de histeria.
O fato do sintoma funcionar como um sedativo para o mal-estar faz dele um analisador: escutá-lo nos dá acesso simultaneamente a pelo menos três facetas do contexto problemático em que ele aparece. Em primeiro lugar, o sintoma traz à luz uma certa aglutinação de diferenças, disruptiva do modo de subjetivação vigente e o problema que isto ruidosamente coloca. Em segundo lugar, ele manifesta a resposta contemporizadora que está sendo dada a este problema, na tentativa de escapar ao conflito. E, por fim, ele explicita a estratégia existencial construida a partir desta resposta, resolução paliativa cujo objetivo é conjurar nossa condição trágica.
Os modos de subjetivação são formações singulares e datadas, fruto de um tempo processual e irreversível. No colapso dos modos de subjetivação, quando a disparidade entre o humano e o transhumano está à flor da pele, é que aparecem o problema, a resposta e a resolução, que o sintoma torna acessíveis. São mistos espaço-temporais, marcados por diferentes maneiras de resistir ao trágico, diferentes figuras de sua denegação.
O dispositivo analítico teria por função facilitar a relação entre o humano e o transhumano, produzindo cartografias que vem dar corpo às diferenças, responsáveis por aqueles colapsos de sentido. Sendo assim, tais cartografias designam necessariamente uma escolha num contexto problemático dado e por isso são sempre parciais: elas variam ao longo da história do dispositivo analítico embora sua função permaneça a mesma desde a origem. Pretender que nossas cartografias sejam puras, eternas, universais ou simplesmente verdadeiras em si mesmas é reiterar exatamente o que faz adoecer: calar a diferença, calcificar o existente, impotencializar a vida, travar a processualidade do ser, brecar a história. É a própria prática analítica que adoece e se impotencializa quando resvalamos para este tipo de posição. O perigo é que as diferenças acabem não fazendo diferença.
4
O desafio que se coloca para o analista, hoje, é detectar que nuvens negras obscurecem a paisagem contemporânea e forjar cartografias para os modos de subjetivação que venham atualizar aquilo que os relâmpagos dos acontecimentos anunciam, como fez Freud ao fundar a psicanálise colocando-se à escuta da histeria.
Histeria e pânico: cartografias do transhumano no homem
Proponho que examinemos brevemente dois momentos da história do campo analítico, seu início e nossa atualidade. Partiremos de um conjunto de sintomas que fala mais alto em cada um destes momentos para tentar ouvir que diferenças estão pedindo passagem e o modo pelo qual se está buscando contornar esta exigência.
As diferenças com que a psicanálise têve que se haver em seus primórdios, como já mencionado, apresentaram-se a Freud pela voz da histeria. De que nos fala a histeria? De um homem desorientado por se ver exposto ao trágico numa intensidade maior do que a habitual e que se assusta por explorar o transhumano como numa tenebrosa viagem ao avesso da forma, seu negativo: este é seu problema. É que este homem acredita na eternidade de sua forma a qual lhe seria outorgada pela suposta unidade de sua pessoa, o que o faz sentir-se disforme ou mesmo informe. O mal-estar da disparidade entre o humano e o transhumano é para ele um trauma; ele a interpreta como se algo estivesse faltando à sua auto-imagem, pondo em risco sua consistência.
Um abalo egóico: esta é a resposta que este homem elabora para seu problema. De posse desta resposta contemporizadora, a resolução que ele constroi consiste em colocar-se numa posição de demanda de reconhecimento: através da sedução de um outro idealizado, buscar uma restauração especular de si. Supõe que o olhar deste outro seduzido é um espelho que lhe devolverá o contorno de sua figura esmaecida, o que o salvará para sempre da escuridão do transhumano.
A paisagem subjetiva que estas nuvens vem obscurecer no final do século XIX é a da idade clássica, na qual o homem tem suas forças agenciadas com as forças do infinito5 onde deposita a garantia de sua consistência. Um modo de subjetivação baseado num sistema absoluto e próximo ao equilíbrio. São várias, aqui, as versões do absoluto. Em linhas gerais ele pode ser tanto a forma humana à imagem e semelhança de Deus com sua razão infinita (o sujeito judaico-cristão), quanto a consciência (o sujeito do cogito cartesiano), quanto também a interioridade (o sujeito da psicologia clássica, fundado na introspecção, ou ainda o da psiquiatria
5
do século passado). É este homem que de repente se vê vertiginosamente exposto ao trágico e se desespera. O que chega aos ouvidos de Freud são os ecos desta angústia acompanhada de uma demanda: encontrar um modo de subjetivação que seja uma resolução menos paliativa do que a histeria.
Freud constituirá cartografias para esta construção singular. Seu desafio: instrumentalizar a travessia que está se operando de uma subjetividade fechada em si mesma, perto do absoluto e do equilíbrio, para uma subjetividade agenciada com as forças da finitude, descobertas na vida, no trabalho e na linguagem.
A resolução que irá se construir ao longo do século XX, inclusive através da psicanálise, se constitui a partir de um deslocamento da posição desde a qual o transhumano é explorado: ele continua a ser vivenciado como negativo da forma, mas mudam as figuras do negativo. Passa para um segundo plano o sujeito unitário, que vê nesta experiência o sinal de um abalo egoico, o considera como castigo por algum pecado ou erro e se atormenta de culpa; aparece em primeiro plano um sujeito descentrado, que continua a explorar o transhumano como numa viagem ao negativo de sua figura, mas o incorpora como parte inevitável de sua subjetividade. Este tipo de visão do transhumano, marcada por uma experiência traumática do trágico, se mantem ao longo da história da psicanálise até hoje, variando apenas suas figuras: de um campo energético indiferenciado (contemporâneo à termodinâmica e à lei da entropia) a uma falta-em-ser, passando por inúmeras outras.
Não caberia aqui fazer um levantamento exaustivo de tais figuras, nem um exame mais minuncioso de alguma delas. O problema com que se defrontou a psicanálise em sua fundação e as resoluções que ela foi lhe dando implicam cartografias específicas, que passam pelas decisões tomadas ao longo de sua história. Fazer um recorte da teoria psicanalítica com o intuito de detectar tais cartografias parciais, além de demasiadamente pretensioso no contexto de um ensaio, fugiria de nossa ambição principal: circunscrever as nuvens que obscurecem a paisagem contemporânea para problematizar os desafios aos quais temos que fazer face na atualidade do trabalho analítico. Vamos então direto ao que nos interessa: o que se vislumbra nesta paisagem?
É evidente que a histeria não deixou de existir, assim como uma série de outros sintomas detectados no início e ao longo da história da psicanálise. No entanto, um conjunto de sintomas insiste especialmente na atualidade: aquilo que a psiquiatria chamou de "síndrome do pânico". Não estou tomando a tal "síndrome" de um ponto de vista psiquiátrico - ou seja, enquanto categoria de uma classificação
6
universal e a-histórica das psicopatologias e, menos ainda, entendida à luz exclusiva de uma causalidade orgânica -, mas sim como um analisador. Há inúmeros outros analisadores da problemática de nosso tempo; escolho este simplesmente por constatar em minha clínica que o pânico tem se apresentado como uma das queixas com as quais se chega a uma análise.
E o que nos aponta a tal síndrome? Um homem tomado de pânico, por encontrar-se exposto ao trágico numa proporção provavelmente mais violenta e recorrente do que no final do século passado, o que provoca uma desestabilização ainda maior. Como o trágico continua sendo um trauma, a intensificação da disparidade que o caracteriza passa a ser vivenciada como incidindo sobre a própria vida: este homem sente seu organismo habitado por um perigo progressivo de perda de organicidade, de desorientação, que a qualquer momento pode chegar a um verdadeiro enlouquecimento do corpo6 e levá-lo à morte. Sente-se inteiramente impotente para fazer algo que breque este processo, pois ele acontece imperceptivelmente no segredo de suas entranhas. É como se a vida escapasse de suas mãos. Uma espécie de terremoto ontológico, onde quem fica ameaçado é o próprio ser, enquanto pulsação vital.
A resolução que este homem costuma tentar encaminhar através de sua síndrome, tal como o venho constatando na clínica, é a de não mover-se a não ser acompanhado. Espera dessa maneira evitar que a desestabilização ultrapasse um limiar de perda irreversível de consistência, a morte biológica. Deposita sua vida nas mãos do "acompanhante" que lhe serve de garantia externa - uma espécie de corpo sobressalente ou corpo-prótese, do qual pode dispor caso o limiar seja atinjido.
Convulsões contemporâneas
Mas o que está se passando neste final de século para que se esteja em pânico a este ponto?
Uma intensa crise nos modos de subjetivação vigentes vem se gestando, fruto de uma somatória de fatores. Para ficar apenas em alguns, destaquemos o importante avanço tecnológico que tem sido alcançado e que confronta o homem a novas forças - o silício, para além do carbono, e o cosmos, para além do mundo. Embarcamos numa acelerada transfiguração, para a qual contribui especialmente a indústria da informação e da transformação digital. Imagens, sons e dados de toda espécie navegam pelas artérias eletrônicas, cada vez mais rápida e instantâneamente, fazendo com que cada indivíduo seja habitado simultaneamente por fluxos do
7
planeta inteiro. Com isso, as figuras da realidade subjetiva e objetiva tem vida cada vez mais curta e novas figuras proliferam numa velocidade estonteante, em múltiplas direções, todas ao mesmo tempo. Isto promove uma desnaturalização das figuras quase que concomitante ao seu aparecimento e faz com que a todo momento estejamos vivendo choques com o inabitual, pressionados, envoltos por nuvens negras de diferenças, perdidos em sua escuridão. Já nosso modo de subjetivação, não consegue acompanhar esse processo na mesma velocidade, o que nos deixa inabilitados para operar neste novo ambiente, de maneira a compor, com suas forças/fluxos, territórios de existência individual e coletiva, onde possamos nos situar.
Contribui para nossa incapacidade de processar esta velocidade, outro fator: a vigência no mundo contemporâneo de uma hierarquia mais impalpável do que aquela que se exerce entre classes, etnias, raças, sexos, gêneros ou ideologias, mas talvez por isso mesmo mais implacável; é uma hierarquia imaginária que oprime todos os modos de existência. Montam-se imagens de figuras humanas que parecem pairar inabaláveis sobre as turbulências do vivo. Tais figuras prêt-à-porter servem como modelo identificatório, referência universal a partir da qual avalia-se todos as figuras existentes, criando a ilusão de que é possível permanecer em equilíbrio, imune à finitude, o que reitera a exploração do transhumano como o negativo da forma. Os monopólios da mídia contribuem particularmente para o estabelecimento deste tipo de hierarquia: através de suas ondas visuais e sonoras, cada vez mais aprimoradas, vibra incansável e instantâneaneamente a transmissão deste modelo ideal glamourizado para todos os cantos do planeta.
Somados estes dois fatores, entre outros, o que acontece é que, por um lado, estamos especialmente expostos ao mal-estar do trágico, mas, por outro lado, estamos especialmente impedidos de administrá-lo. Vivemos o mal-estar da desestabilização de nossas figuras como um trauma. Interpretamos a finitude destas figuras como uma desgraça que se abateu sobre nós, uma perda, uma falta, um fracasso, já que nossa referência é a miragem de uma suposta completude cuja fascínio nos captura e nos escraviza. Na tentativa de nos apaziguarmos, investimos inconscientemente as figuras prêt-a-porter que idealizamos. Isto nos afasta mais ainda da possibilidade de criação de territórios singulares que corporifiquem os agenciamentos de diferenças que pedem passagem. Não incorporadas, as diferenças continuam então a nos desestabilizar, fragilizando-nos cada vez mais: e quanto mais fragilizados, mais investimos aquela hierarquia e a ilusão de que ela é portadora. Esta situação é bastante temerosa pois em nome do absoluto somos capazes de
8
eliminar tudo o que imaginariamente pode vir a ameaçá-lo, com uma crueldade insuspeitável.
Face a este quadro, reivindicar um relativismo de valores de nada adianta. Este tipo de reivindicação nos mantem no mesmo lugar, pois o relativismo, como a hierarquia, baseiam-se numa concepção identitária de diferença; opô-los, portanto, é colocar um falso problema. Tanto numa, quanto noutra destas posições, nos confundimos com o existente, nos anestesiamos à irrupção intempestiva de agenciamentos de diferenças - aqui, no sentido do que vem arrancar-nos de nossa suposta identidade - e permanecemos impedidos de criar territórios que tragam estes agenciamentos à existência.
É verdade que esta tendência não é soberana: os avanços que vivemos hoje e a intensificada produção de diferenças que eles promovem, potencializam consideravelmente a experimentação individual e coletiva. Por exemplo no campo da mídia eletrônica, em contracorrente ao centralismo tecnocrático dos monopólios, outros usos vem se afirmando internacionalmente, na direção de uma democracia cognitiva em tempo real apoiada no surgimento de uma inteligência coletiva7. É o caso da superinfovia Internet, que envolve mais de quarenta milhões de usuários espalhados por cento e tantos países, em troca direta e instantânea de informação, organizados em torno de interesses os mais variados, passando por cima ou ao largo dos poderes dos estados e das multinacionais. Uma guerra entre estas forças vem se travando cada vez mais intensamente numa arena invisível cujo nome é "ciberespaço".
A análise é um dos dispositivos que poderia intervir nesta balança, fazendo-a pender para o lado da potência criadora - esta seria sua vocação ético-política mais radical. Mas exercê-la depende de ousarmos encarar o desconcerto que estamos vivendo e nos autorizarmos pensar cartografias adequadas para aquilo que este mal-estar nos indica. Tal decisão implica em ampliar ao máximo a disponibilidade em relação a toda espécie de ruptura de sentido, ampliar a fluidez e a liberdade de criação. Sem esta ampliação, não conseguimos processar subjetivamente a riqueza da paisagem contemporânea e continuamos perdidos e apavorados.
Se quisermos aproveitar esta riqueza teremos que ir mais longe na tentativa de destituir o absoluto. Sem dúvida o tipo de homem que a síndrome do pânico nos revela - em certa medida, todos nós - já reconhece que o absoluto não existe e, no mínimo, que sua subjetividade é descentrada (dividida, fragmeantada, etc). Mesmo assim guarda as marcas de um passado em que o absoluto funcionava
como garantia de ordem e eternidade. Umbilicalmente ligado ainda a este passado, não tão remoto, ele mantem o absoluto como promessa no horizonte de seu desejo. Vive o ser como um vazio a ser preenchido e o que o move é então a busca do objeto impossível, que viria completá-lo. É enquanto perdido e impossível que o absoluto perdura como referência para este homem que somos. Encarar de frente o problema que a síndrome do pânico nos desvela passa por cercar mais incisivamente a presença do absoluto que ainda insiste na subjetividade nesta já virada de século.
O desafio que se impõe à análise neste contexto é o de traçar cartografias que impliquem uma mudança de perspectiva na relação com o trágico: é preciso que o mal-estar que ele mobiliza possa deixar de ser um trauma. Para isso faz-se necessário deslocar-se do ponto de vista de um sujeito, mesmo que descentrado, escravo de sua figura, para o ponto de vista da processualidade do ser. Deixar de explorar o transhumano como negativo da figura constituida, para tomá-lo em sua positividade: uma fábrica de hibridações de forças/fluxos, produtoras de diferenças, cuja aglutinação é responsável pela aurora das figuras da realidade subjetiva e objetiva, bem como por seu ocaso.
No horizonte da paisagem contemporânea o que parece delinear-se é uma subjetividade que deixa de depositar a garantia de sua consistência no absoluto, inclusive enquanto inatingível, para sustentar-se na própria processualidade do ser. Uma subjetividade cujo único parâmetro é o trágico: o eterno retorno da diferença8, a garantia de que algo vai advir. A eclosão de acontecimentos, portadores de diferenças, é o único indicador com que este homem poderá contar para traçar suas cartografias. Uma subjetividade heterogenética, metaestável9, sistema distante do equilíbrio10 .
É evidente que este novo problema exige uma ampliação e até um deslocamento das cartografias psicanalíticas tradicionais. Estas são inseparáveis de uma sociedade presa a seu passado, a seus invariantes subjetivos11 - uma subjetividade homogenética com seu sistema próximo ao equilíbrio, regido por leis dialéticas ou estruturais, e marcado por uma lógica discursiva. As convulsões contemporâneas pedem que direcionemos nossas cartografias mais para o futuro e para uma enfatização do cunho experimental das práticas analíticas. Porque experimental?
É que no trabalho de análise estamos o tempo todo expostos a uma reponsabilidade, que não é relativa a um referencial, nem a uma instituição, que ela seja ou não psicanalítica; é uma responsabilidade relativa ao próprio ser, enquanto força de repetição da diferença. Referenciais e instituições, vão sendo escolhidos em
10
função desta responsabilidade. Nesta aventura não há qualquer garantia de verdade ou de cientificidade, pois a análise implica numa complexa apreensão do problema singular que cada acontecimento coloca, correndo-se sempre o risco de fracassar. É isto o que faz da prática analítica uma arte da experimentação. A prudência é um importante elemento desta arte - mas, lembremos, « a radical abertura ao problemático faz com que esta prudência nada tenha a ver com virtudes de bom-senso »12. Trata-se de uma prudência ética.
Pensando desta perspectiva, o que fazemos na prática analítica é mais da ordem de uma experimentação do inconsciente, do que de sua interpretação propriamente dita. Ou para ser mais rigorosos, o que fazemos é, na verdade, uma exploração experimental da relação com o trágico, esta pulsação do transhumano no homem. Isto depende de um interminável combate contra os obstáculos que reiteradamente se contrapõem a esta aventura.
Uma reversão do platonismo no campo analítico
O trabalho que venho empreendendo desde a década de 70 na tentativa de fazer face às exigências que a prática analítica coloca na atualidade, tem me levado a dedicar-me especialmente à elaboração de uma operatoriedade dos conceitos propostos pela clínica e pelos escritos do psicanalista Félix Guattari, só ou em parceria com o filósofo Gilles Deleuze.
Do lado da clínica, esta obra é a problematização da vasta experiência analítica de Guattari, marcada inicialmente por uma corrente da psiquiatria francesa que ficou conhecida pelo nome de "psicoterapia institucional", importante referência na abordagem da psicose. Tal corrente tem sua origem durante a segunda guerra mundial, no Hospital de Saint Alban, onde entre inúmeras inovações na prática psiquiátrica, destacam-se a introdução de uma psicanálise repensada em função do trabalho com a psicose em ambiente institucional e a incorporação da autogestão do coletivo como recurso terapêutico. A contribuição mais significativa desta corrente nos tem sido oferecida pela Clínica de La Borde, com a qual Guattari estêve envolvido desde o início, há mais de quarenta anos, tendo sido seu co-diretor por muito tempo, ao lado de seu fundador, Jean Oury. Neste contexto, a psicoterapia institucional ganha fôlego, marcada num primeiro momento pelo movimento lacaniano e, em seguida, pelo vasto trabalho teórico empreendido por Guattari em sua obra com Deleuze, visando enfrentar questões suscitadas pela prática analítica, cuja problematização se inviabilizaria se ficasse restrito às fronteiras da psicanálise.
11
Esta obra delineia-se a partir de recursos conceituais da psicanálise - extraídos de várias de suas tendências, sem ater-se dogmaticamente a nenhuma delas -, associados a recursos de outros campos da cultura - filosofia, ciências e artes -especialmente os trabalhos que se inserem numa tradição de questionamento dos modelos da representação que impregnam a história do pensamento ocidental.
Porque a análise exige que se recorra ao extrapsicanalítico? É que há inevitavelmente uma transdisciplinaridade em torno dos problemas colocados pelas diferenças que se apresentam a cada época pois elas atravessam todos os campos da cultura. Freud sabia disso e nunca deixou de se alimentar do pensamento produzido em outros campos. E cada nova teoria que se produz no campo analítico é uma decisão tomada num contexto problemático específico.
A principal decisão que a obra de Guattari e Deleuze toma em relação ao campo analítico é a de engatá-lo na tradição filosófica que questiona os modelos da representação. Tal empreendimento não passa apenas por apontar e demolir as fortes marcas dos modelos da representação que impregnam a psicanálise: este trabalho outros autores fizeram e vem fazendo nos últimos tempos. A contribuição mais original e mais relevante desta obra é a de se constituir como um campo de criação conceitual livre destas marcas: fazer uma "reversão do platonismo" no interior do campo analítico, como Deleuze se propôs fazer no campo da filosofia13. É verdade que esta reversão muda a paisagem psicanalítica a ponto de torná-la muitas vezes irreconhecível. Mas isto só nos surpreende se reduzirmos o campo analítico a uma ou várias de suas cartografias parciais, e esquecermos que sua vocação é exatamente a de criar condições para suportar o estranhamento das paisagens que o tempo redesenha no rastro dos acontecimentos, o que implica em estar sempre refazendo suas cartografias. A coragem de reafirmar esta vocação faz da obra destes autores uma fonte privilegiada de recursos para circunscrever as diferenças que nos desconcertam e avançar na travessia que se faz necessária em direção a uma subjetividade heterogenética, fundada no trágico. E mais ainda, tal obra se constitui numa fonte privilegiada de recursos para pensar o plano onde se engendram as diferenças, o transhumano em sua lógica e complexidade próprias. Isto contribui para nos deslocarmos da perspectiva que explora o transhumano sob a égide do plano das formas e o pensa simplesmente como o negativo deste plano - não-discursivo, não-verbal, indizível, inominável, irrepresentável, informe... inconsciente.
Dependendo de como a análise é entendida e praticada, ela poderá estar ou não à escuta da problemática singular que se coloca a cada momento de sua
12
prática. Desta escuta dependerá seu efeito: calar ou dar voz ao transhumano no homem, resistir ao trágico ou afirmá-lo - ou seja, emperrar ou relançar a produtividade do ser. Em termos sociais e históricos isto implica em reiterar os modos de subjetivação dominantes ou colocar-se na adjacência de suas rupturas, sustentando a busca de expressão daquilo que as nuvens negras das diferenças anunciam intempestivamente. Em suma, suportar e permitir que a história nos separe de nós mesmos toda vez que isso se fizer necessário.
É preciso ser fronteiriço à própria psicanálise enquanto campo de saber e de poder, se quisermos « reatar com sua inventividade primeira »14, ativar « a riqueza efervescente, o inquietante ateismo de suas origens»15, esta crise do absoluto abrindo a escuta para a turbulenta profusão de diferenças. Disto depende o poder de cura da análise - sua força de criação e transformação.
* Publicado na França, in Chimères no 25. Association Chimères, Paris, outono 1995.
Versão ligeiramente modificada do ensaio publicado no Anuário Brasileiro de Psicanálise. Relume-Dumará, Rio de Janeiro, 1995 e, na Argentina, in Zona Erógena, Revista abierta de Psicoanalisis y Pensamiento Contemporaneo, no 24. Buenos Aires, inverno 1995.
** Psicanalista. Professora Titular da PUC/SP (Núcleo de Estudos e Pesquisas da Subjetividade do Pós-Graduação de Psicologia Clínica). Autora de Cartografia Sentimental. Transformações contemporâneas do desejo (Estação Liberdade, São Paulo, 1989); co-autora com Félix Guattari de Micropolítica. Cartografias do desejo (Vozes, Petrópolis 3a edição 1993); organizadora e tradutora da coletânea de textos de Félix Guattari, Revolução Molecular. Pulsações políticas do desejo (Brasiliense, São Paulo, 3a edição 1987).
1 Gilles Deleuze, "A vida como obra de arte", Conversações, 1972-1990. Ed. 34, Rio de Janeiro, 1992; p.119.
2 Estaremos utilizando os termos análise, analítico, analista e analisando no sentido de uma operacionalização clínica dos conceitos propostos por Félix Guattari e Gilles Deleuze, cuja obra nos oferece instrumentos para um trabalho de reorientação e expansão do campo psicanalítico.
3 "Guattari na PUC", in Cadernos de Subjetividade, v. 1, n. 1: 9-28. São Paulo, Núcleo de Estudos e Pesquisas da Subjetividade, Programa de Estudos Pós-Graduados de Psicologia Clínica da PUC/SP; mar./ago. 1993 (especialmente p. 18).
4 Paulo C. Lopes, Exame de Qualificação para dissertação de mestrado. Pós-Graduação de Psicologia Clínica da PUC/SP. São Paulo, 1994.
5 Gilles Deleuze, "Rachar as coisas, rachar as palavras", Conversações, 1972-1990. Ed. 34, Rio de Janeiro, 1992; p. 114.
6 Idéia sugerida por Pierre Fédida (seminário clínico na livraria Pulsional. São Paulo, abril de 1994).
7 Pierre Lévy, L'intelligence collective. Pour une anthropologie du cyberpace. Éd. de la Découverte, Paris, 1994.
13
8 Gilles Deleuze, Diferença e repetição. Graal, Rio de Janeiro, 1988.
9 Gilbert Simondon, L'individu et sa génèse psycho-biologique. PUF, Paris, 1964.
10 Ilya Prigogine e Isabelle Stengers, A nova aliança. Metamorfose da Ciência. UNB, Brasília, 1991.
11 Félix Guattari, Caosmose. Um novo paradigma estético. Ed. 34, Rio de Janeiro, 1992.
12 Luis B. Orlandi, "Pulsão e campo problemático", in Pulsão. Diferentes abordagens. Escuta, São Paulo, no prelo.
13 cf. nota 8.
14 Félix Guattari, editorial de Chimères, Revue des Schizoanalyses, no 1: 3. Dominique Bedou, Paris, primavera 1987.
15 cf. nota 11.
http://www.pucsp.br/nucleodesubjetividade/Textos/SUELY/Malestardiferenca.pdf














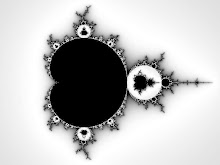





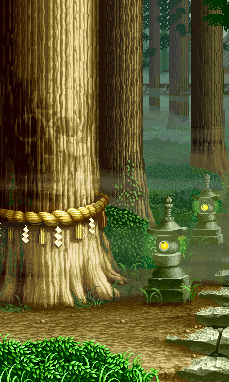.gif)

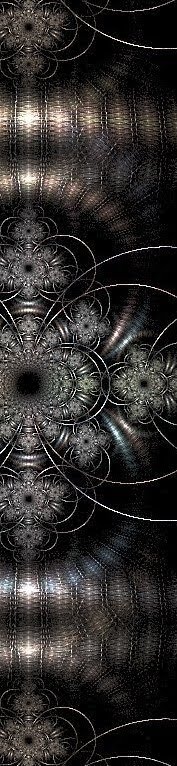.jpg)


















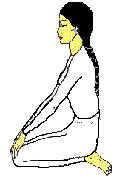

















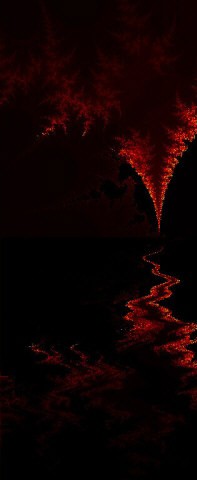









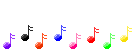











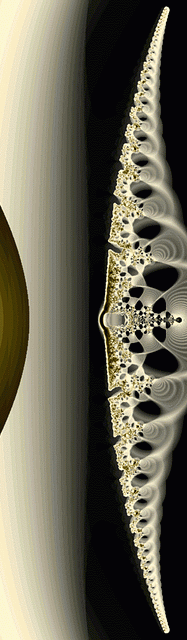












Nenhum comentário:
Postar um comentário